Crônicas do domingo…
Assú das minhas eternas amizades… Gutenberg Costa – Pedagogo, Bacharel em Direito, Escritor e Folclorista Como diziam aqueles antigos andarilhos: “ôh de casa”! Ou então: “Louvado seja Nosso Senhor, Jesus Cristo!” Pois aqui vou chegar com minha prosa e história comprida sobre o querido Assú.

Assú das minhas eternas amizades...
Gutenberg Costa – Pedagogo, Bacharel em Direito, Escritor e Folclorista
Como diziam aqueles antigos andarilhos: “ôh de casa”! Ou então: “Louvado seja Nosso Senhor, Jesus Cristo!” Pois aqui vou chegar com minha prosa e história comprida sobre o querido Assú. Terra dos poetas e de minhas grandes amizades. Nosso mestre maior, Câmara Cascudo, (1898-1986), chamava as tramas boas das amizades de: “intriga do bem”. Começo dizendo que cheguei às terras assuenses puxado por minha saudosa mãe, dona Estela Medeiros, que nascera na vizinha cidade de Pendências. Minha avó paterna Maria Tavares, era de Ipanguaçu. Já meu avô materno, Francisco Hermógenes de Medeiros, teve comércio e casa em Assú, como depois a minha tia materna, Cândida Medeiros, a qual negociou muitos anos com uma loja de roupas perto da Praça do Rosário, no centro. E era na casa dessa tia, as minhas hospedagens nas férias escolares de Natal.

Em 1959, meus pais tomaram como meus padrinhos de batismo, na Igreja de São Pedro, em Natal, no bairro do Alecrim, o casal, deputado Olavo Lacerda Montenegro e sua esposa Neide. Conheci na casa de meu citado padrinho os seus filhos e seu irmão João Batista Montenegro. No Vale do Assú, só existem dois perigos: ‘morrer de queda de rede’ ou de ‘bucho inchado’.
Um dia, tomando um farto café de beira de estrada, no restaurante e morada de ‘seu’ Walfrêdo, aqui no Assu, com destino a Mossoró, e entre umas prosas, com o proprietário, o homem mais ignorante do RN, o nosso ‘seu’ Lunga, esse me indagando de quem eu era filho e neto, respondeu-me aos gritos ao ouvir minha resposta: “Neto do industrial salineiro Hermógenes Medeiros, mesmo sem dinheiro, aqui come e dorme”... Dito isso da boca do homem que, em vida, não livrou os couros de quase nenhum vivente nesse mundo...
Entre os seus antigos carnaúbas, o velho caminhão Chevrolet de meu pai, Geraldo Costa, deixou rastro e fez poeiras. Trago em minhas alpercatas da infância esse pó sagrado das terras de São João Batista, que duplamente abençoa Assú e Pendências. Tomei banhos de seu rio e lagoa do Piató. Assisti filmes em seu velho cinema Pedro Amorim, hoje teatro e espaço cultural. Tomei café e conversei na calçada de dona Maria Eugênia Montenegro, (1915-2006). Dona ‘Gena’ e seu marido Nelson Montenegro. Os ouvidos nas prosas e os olhos nos azulejos da fachada da antiga casa de esquina. Isso em 1991, segundo minhas teimosas anotações.

Quando adolescente, trabalhei na casa/bar ‘Beco da Música’, do assuense cantor e compositor Chico Elion (1930-2013), na Avenida Alexandrino de Alencar. O saudoso Mestre Elion foi além de um amigo, um professor e primeiro influenciador do meu bom gosto pela Música Popular Brasileira. Casa cheia de discos e boas histórias de boemias...
Minha casinha inesquecível da rua da feira no Alecrim em Natal, ficava perto do casarão do casal amigos de minha mãe: Rômulo Wanderley (1910-1971) e sua mulher, dona Maria Amélia. Seus filhos, Berilo e Gilberto, eram mais velhos do que eu e com eles não tive amizades. Ali foi a primeira biblioteca e piano em uma residência que eu vi na minha infância. Quando o velho escritor morreu, minha rua ficou tão cheia de automóveis que me perdi na conta...

Tempos depois, publiquei meus primeiros artigos, atrevidamente, com a cumplicidade do grande amigo jornalista e escritor Walter Medeiros no velho jornal ‘A República’. Também trabalhei vários anos, a convite do amigo jornalista e escritor João Batista Machado, na assessoria de imprensa do Governo do Estado, início dos anos 80. E o Machadinho, carinhosamente apelidava-me, às vezes, de – ‘o inventor da imprensa’ ou ‘alemão’. Tanto Machado quanto Celso da Silveira, milagrosamente, apareceram nos tempos difíceis das ditas ‘vacas magras’. E diga-se, tempos em que só os verdadeiros amigos de bom coração chegam de supetão em nossas desertas fazendas. O compadre Celso Dantas da Silveira, (1929-2005), era o padrinho de fogueira de minha filha caçula, Sarah Costa. Foi um amigo, compadre e mais que um irmão...
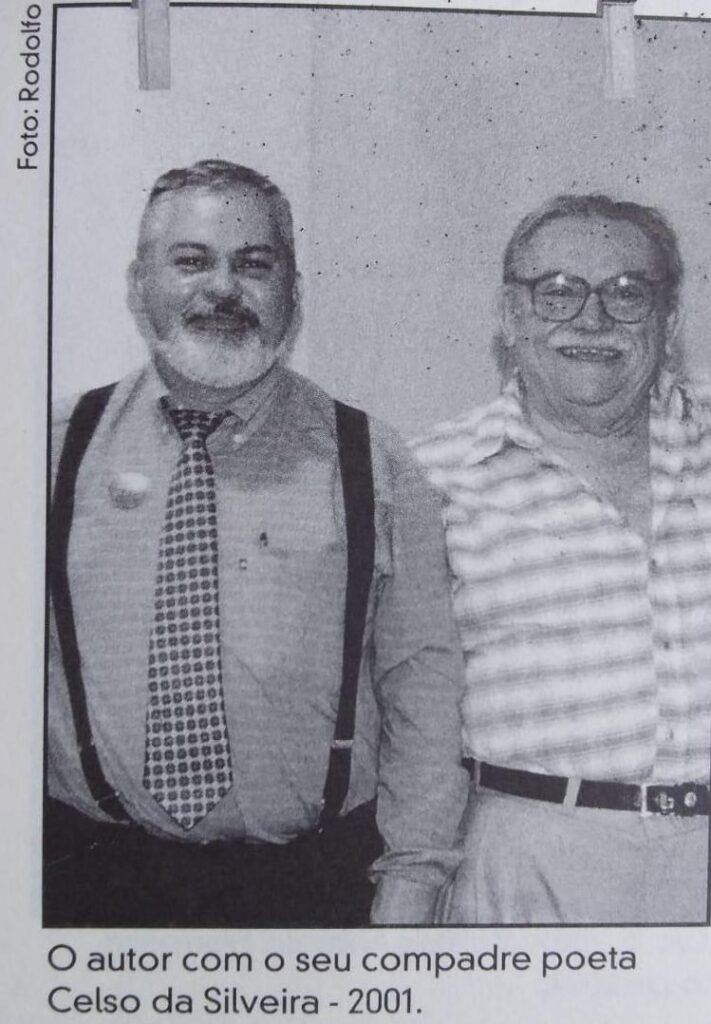
Tenho a feia mania de anotar o que ouço e vejo neste mundão, o que pouca gente anotaria. Uma tarde, estando presente a missa na Igreja São João Batista do Assu, vi o ritual religioso sendo prejudicado pelas mugangas de uma tal dona Maria, magra, escura e muito extrovertida, imitando em tudo o Padre Canindé que, chateado percebendo as presepadas da dita cuja, perdeu as estribeiras e, aos gritos, a fez sentar-se e bem caladinha, dando-lhe um só carão daqueles: “Maria, sente-se quieta, deixe de cavilação”. Sou do tempo que um carão fazia medo mais do que uma surra. E até os doidos o atendiam na hora.
Em outra viagem, o poeta Boinho com suas histórias até me deu inspiração para uma crônica no finado Jornal de Natal. De saída, pergunto: Boinho, quanto custa mesmo o seu livro? E ele dando uma baforada em cima de mim, disse-me com toda a sua sinceridade: “Doutor, eu tô liso, mas compre uma carteira de cigarros e leve o meu livro”. Único livro que tenho negociado dando lucro a Souza Cruz!
Não posso esquecer outros ilustres assuenses: o mamulengueiro Chico Daniel, (1941-2007) de tantas histórias engraçadas presenciadas por mim quando trabalhei na Fundação José Augusto. Poeta Chisquito, (1899-1994), dando baforadas de seu cachimbo, na calçada do Café São Luiz e pagando cafezinhos. Amizade transferida a seu filho Tarcísio. O genial violeiro cordelista Chico Traíra (1926-1989), que me foi apresentado pelo Padre Zé Luiz (1928-1991). Amizade boa também repassada a sua família até os dias atuais. Ainda fui a um lançamento do poeta Renato Caldas (1902-1991), na Livraria Clima e guardo o seu livro, ‘Fulô do Mato’, com sua assinatura já tremula do tempo poeticamente vivido. Lembro agora de um homenzarrão que descia de seu jipe em frente à porta de minha casa na Av 1. Eu criança, tinha até medo do cujo, quando esse sorrindo apertava a mão de meu pai: “Tudo bem, meu velho primo?”. Esse era o lendário boêmio gigante que só fazia o bem em Natal: Luiz Tavares, (1913-1982).

A relação é grande de amizades que posso até esquecer alguns: escritor e poeta Ivan Pinheiro; poeta e escritor Francisco de Assis Medeiros, o qual todos os dias pelo zap me trata de primo e até presenteou-me com belos tamboretes de artesãos assuenses. Verdadeiras relíquias. Artista plástico, xilógrafo e escritor Gilvan Lopes, que me chama de compadre há décadas; amiga jornalista e escritora Auricélia Lima, que assume a cadeira de Celso da Silveira na Academia de Letras do Assu; poeta Paulo Varela; advogada e professora Clarisse Tavares e seu pai, o poeta Sávio, conversador dos bons, o qual até parece que bebeu água de chocalho, como eu. Não tenho como esquecer a amizade que fiz em Mossoró com o Monsenhor Américo Simoneth, (1929-2009). No Assú entrevistei rezadeiras, cordelistas, artesãos, violeiros e artistas populares. Comi alfenins e cocadas em sua feira. Anotei apelidos e ouvi causos dos seus três santos – ‘Xanduzinho’, ‘Renato Caldas’ e ‘Walter de Sá Leitão’. Terra também do humor, que o diga Moisés Sesiom que por lá viveu. Em uma plena semana Santa comi do peixe de Tião Diógenes em sua fortaleza. Um olho no peixe e outro nas emas soltas... Até participei de boemias ao lado do amigo Paulinho Montenegro. Só que esse bendito itinerário etílico eu vou deixar em segredo mesmo...E não posso esquecer que meu editor jornalista José Alves, foi como eu ‘menino buchudo’ entre as suas carnaubeiras. De seus talos fizemos cavalos e corremos num tempo em que fomos ricos e felizes! As histórias ali vividas e os causos presenciados com certeza já dão um livro volumoso. E é como dizem, folclorista sem conversa de miolo de quartinha não existe! Eu venho da época de calçadas com cadeiras e conversas. Também das santas procissões de Xanduzinho e Padre Canindé... (Nísia Floresta – 13/09/2020)
Ô saudade da gota!
Rosemilton Silva - Jornalista
Ai que saudades dos tempos em que a gente olhava o desfile das meninas na balaustrada da pracinha com aqui e acolá um acorde de violão saindo junto com a voz de alguém, mesmo desafinada, vindo de um bar e anunciando a serenata que se avizinha logo mais após o motor da luz dar sinal de cansaço e embalar a noite silenciosa da cidadezinha pequena observando o perambular de alguns por suas calçadas ou andar trôpego de alguém que bebeu além da conta e que, pelos passos, muitos já sabem quem é.

Saudade danada, “homi”, daquele olhar brilhando quase saindo faísca da menina dos olhos do coração de cada um de nós. Ou, quem sabe, de um olhar como a lua que se levantava devagarinho acabrunhado como não quer e querendo, primeiro delineando a serra e depois os corpos que podiam ser visto na luz brilhante mais parecendo a estrela Dalva que encantava pelo seu brilho cintilante, piscando pra nós como se fosse vagalumes apaixonados desenhando com suas luzes os fixus benjamins que, daqui a alguns anos, nos trará a tal lacerdinha temida por todos e terão que ser arrancados para acabar com a praga, deixando nossos bancos desnudados sem a proteção que nos ajudava a refrescar o calor em dias quentes de sol a pino.
Saudade da gota serena da inocência de cada um de nós que “ispia” de soslaio – soslaio é ótimo, né não!? – o balançado lento das cadeiras da morena, loira, branca, parda rebolando fazendo um “friviado” no coração enquanto o olfato sente o cheiro da açucena invadir o ar deixando o cabra “arriado inté os quatro pneus”. É coisa pra casamento, garantiam os amigos.
Homi, pense numa saudade doída, que invade o peito e “rimoe” o pensamento oferecendo um mote para o soneto que vai surgindo no papel, enquanto a professora está de costa para os alunos ensinando como a vida pode ser mais fácil ou complicada a partir daquilo que você aprende ou não pensa em aprender naquela carteira para dois que, na maioria das vezes, facilitava a cola numa prova mais difícil e isso, de vez em quando, ajudava a preguiça de estudar os pontos que foram escolhidos para o exame mensal ou de final de ano.

Oxente! E como não sentir saudades do coaxar na beira rio do sapo boi ou dos caçotes que se aventuram no chão da praça depois de um dia de chuva, metendo medo nas meninas que teimavam em desfilar mesmo desviando de vários deles com pulos e gritinhos nervosos e que nos fazia rir. E aí bate aquela vontade latente – hoje eu tou cá mulesta. Latente também é excelente - de pegar um caçote e jogar em cima de uma delas, daquelas que tem mais medo só pra vê-la desembestar no rumo de casa jogando todas as pragas possíveis e imagináveis sobre o mau elemento!
Apois é! Saudade é bicho que mata a gente. Os escravos chamavam isso de banzo. Coisa que não tem cura mesmo. E hoje o banzo ainda está maior ao ouvir o canto lá longe regado a um violão bem afinado e com acordes perfeitos. Olho pro céu e até ouço alguns fazerem coro numa reunião de velhos amigos num bar qualquer que possa existir por lá. E lembrando de tudo isso, uma lágrima vai descendo lentamente para se juntar a outra que teima em marejar o olho para molhar o rosto banhando a vida “de pratrasmente” com seus cheiros, seus gostos, suas belezas, suas risadas, suas angústias, suas alegrias, seus choros...

Ah, que saudade até do mingau servido no recreio da escola, aquela papinha que a gente comia com tanto gosto; do recreio com as meninas brincando de academia, escravo do Jó, ponte da aliança, voley, futebol, uma briguinha aqui e outra logo depois, um copinho sanfonado cheio de suco de fruta fresquinha, um buzí, um baton, algumas “tamarinas” repartidas, um sanduiche de queijo dividido e não pode faltar uma conversinha ao pé do ouvido, claro!

E aí parece que estou ouvindo, Maroquinha do alto de sua intelectualidade poética e cultural, apoderar-se de Casemiro de Abreu e recitar:
“Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras...”
E vou recortando o poema na lembrança da recitação.
“Que noites de melodia
Naquela doce alegria,
Naquele ingênuo folgar!”
E vem mais.
“Oh! dias da minha infância!
Oh! meu céu de primavera!
Que doce a vida não era
Nessa risonha manhã!
Em vez das mágoas de agora,
Eu tinha nessas delícias
De minha mãe as carícias
E beijos de minha irmã!”
E aí as lágrimas já não deixam o pensamento vagar! A saudade mata a gente!
Rosemilton Silva


Valeu meu primo, como sempre a sua memória é fantástica. Parabéns!